Setembro se tornou, nos últimos anos, o mês da prevenção, da escuta e da valorização da vida. A primeira edição brasileira ganhou força a partir de 2015, com a proposta de reduzir estigmas e estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda. Desde então, cartazes, campanhas e hashtags se multiplicam em escolas, empresas e redes sociais. A intenção é nobre, mas o efeito, muitas vezes, é o contrário do esperado. Para crianças e adolescentes, por exemplo, a data pode soar como um lembrete doloroso de que o discurso não se traduz em mudanças reais. Afinal, de que adianta falar de prevenção se os lugares em que eles vivem continuam os mesmos desde que se entendem por gente?

Aprendi em uma aula do Dr. Ricardo Krause, psiquiatra da infância e adolescência, que a falta de pertencimento é a maior motivação para casos de suicídio nessas faixas etárias. E, se olharmos com atenção, percebemos o quanto essa frase é verdadeira. Muitos adolescentes estudam em escolas onde não se reconhecem, vivem em famílias com pouco espaço para o diálogo e enfrentam uma sociedade que prefere criticar e repetir o discurso da guerra entre gerações em vez de compreender. As mensagens de incentivo a pedir ajuda e a valorizar a vida são renovadas a cada setembro, mas a estrutura que adoece os jovens (e também os adultos) segue intacta. Não é à toa que psicólogos, psiquiatras e educadores já vêm discutindo a efetividade da campanha.

Quando olhamos para a escola, ambiente em que a maioria das pessoas passa grande parte da vida, a sensação de não pertencer aparece de forma clara. O número de estudantes diagnosticados com diferentes questões de saúde mental cresce a cada ano, mas as atitudes práticas das instituições não acompanham esse cenário. Fala-se muito de inovação, mas salas maker e tablets não resolvem a base do problema. Os professores estão exaustos, sobrecarregados e desmotivados. Nunca houve tantos afastamentos por burnout nas escolas públicas e particulares. Se quase todos acabam com laudo, talvez o problema não esteja nas pessoas, e sim em uma estrutura que já não cabe mais.
Essa estrutura, muitas vezes, reduz a escola a uma engrenagem. O currículo raramente dialoga com temas que atravessam a vida real dos estudantes: desigualdade, racismo, amizades, futuro, finitude. O bullying permanece naturalizado e quem arrisca levantar a mão corre o risco de ser ridicularizado, em alguns casos até pelos próprios educadores. Já vi alunos brilhantes desistirem de participar por vergonha, e outros se apagarem lentamente por falta de um olhar mais atento. Muitas vezes, o aluno “quietinho”, que “não dá trabalho”, é o que mais precisa de ajuda.

A autoestima intelectual, que deveria ser cultivada para que o indivíduo confie na própria capacidade de refletir e realizar, quase nunca é trabalhada de forma intencional. Sem ela, cada erro vira humilhação e cada silêncio aprofunda o isolamento. Até mesmo programas de educação socioemocional, criados para abrir espaço às questões subjetivas, acabam aplicados de forma protocolar, esvaziados de sentido.
Muitos diriam: “cuidar da cabeça é papel da família”. Mas como esperar que os responsáveis ofereçam algo que nunca tiveram? Dentro de casa, o cenário não é muito diferente. Famílias sobrecarregadas recorrem a frases rápidas: “engole o choro”, “isso não é nada”, “na nossa época era pior”, como se estivéssemos em uma competição de sofrimento. A intenção não é ferir, mas o efeito é de silenciamento. O adolescente aprende cedo a esconder suas vulnerabilidades porque não encontra espaço para ser escutado de verdade. Acolher dá trabalho, escutar exige tempo e presença e quase nunca os adultos estão disponíveis.
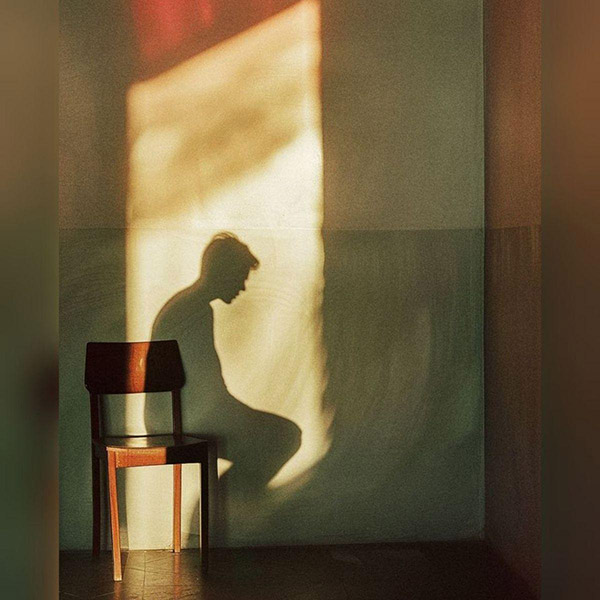
Recentemente, em uma turma de 6º ano, quando falava sobre vício em telas, muitos meninos e meninas choraram relatando que os pais não levantavam os olhos do celular para responder às suas perguntas. Se até os pequenos compartilhamentos do cotidiano encontram barreiras, como esperar que exista vínculo?

A sociedade, por sua vez, amplia esse abismo. Os adolescentes carregam não só a dor do que sentem, mas também a dor de serem constantemente julgados. Quantas vezes ouvimos, e repetimos sem reflexão, que “essa geração é fraca”, “não quer nada”, “vive de celular”? São rótulos que simplificam vidas complexas e ignoram o peso de crescer em um mundo marcado por crises sucessivas, hiperexposição e exigência de performance constante. Ignoram também que o cenário atual de crise em saúde mental não surgiu de uma hora para outra: vem se agravando há décadas. Quantos adultos ressentidos, violentos e profundamente adoecidos encontramos hoje? Ainda assim, quando um adolescente pede ajuda, ouve que não tem tantos problemas assim, que sua única obrigação é estudar ou, a afirmação mais equivocada de todas, que “antigamente não tinha essas coisas”. Em vez de compreensão e apoio, ele recebe ironia e distanciamento. E a solidão se amplia.

Vale lembrar que ainda atravessamos as consequências de uma pandemia. Foram anos de medo, isolamento e luto. Já sabemos que houve aumento do número de divórcios e de violência doméstica, desemprego e dependência química. Como estará a cabeça de crianças e adolescentes que cresceram em meio a esse caos? Em vez de apenas cobrarmos desempenho e notas, deveríamos nos ocupar de como reparar as marcas desse período, reconstruir vínculos rompidos e devolver aos jovens a confiança de que existem espaços onde possam ser ouvidos e valorizados.
A verdadeira prevenção não se faz apenas com slogans ou campanhas anuais. O Setembro Amarelo é importante, mas precisa vir acompanhado de transformações concretas: que a escola ofereça escuta e sentido, que as famílias recuperem o tempo do diálogo e que a sociedade escolha compreender em vez de julgar. Sem isso, a campanha seguirá como um ritual de frases prontas. A saúde mental dos jovens depende de ambientes em que possam experimentar acolhimento, reconhecimento e voz. O que eles precisam não é só apoio passageiro, mas a certeza de que integram algo maior.

