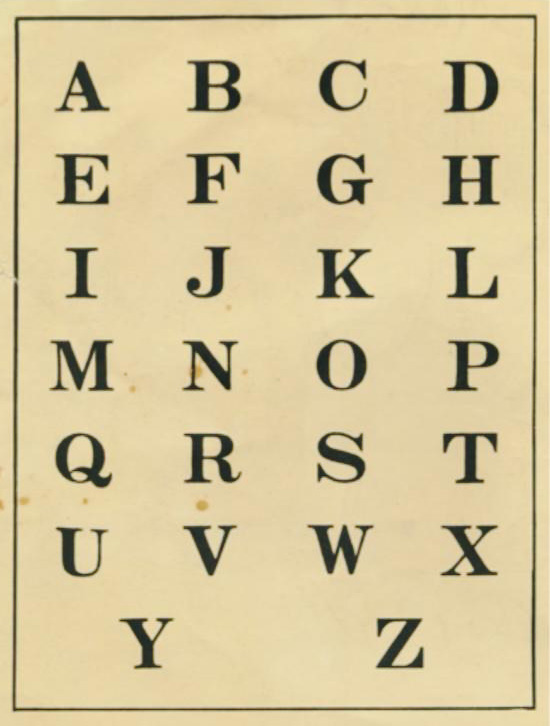
Em 1948, dois professores da Universidade de Harvard publicaram um estudo com 3.300 homens recém-formados, investigando se seus nomes tinham alguma influência em seu desempenho acadêmico. O estudo descobriu que os homens com nomes incomuns tinham maior probabilidade de ter reprovado ou exibido sintomas de neurose psicológica do que aqueles com nomes mais comuns. Os Mikes estavam bem, mas os Berriens estavam com problemas. Um nome raro, presumiram os professores, tinha um efeito psicológico negativo em seu portador.
Desde então, pesquisadores continuaram a estudar os efeitos dos nomes e, nas décadas seguintes ao estudo de 1948, essas descobertas foram amplamente reproduzidas. Algumas pesquisas recentes sugerem que os nomes podem influenciar a escolha da profissão, onde moramos, com quem nos casamos, as notas que obtemos, as ações em que investimos, se somos aceitos em uma escola ou contratados para um determinado emprego, e a qualidade de nosso trabalho em um ambiente de grupo. Nossos nomes podem até determinar se doamos dinheiro para vítimas de desastres: se compartilhamos uma inicial com o nome de um furacão, de acordo com um estudo, somos muito mais propensos a doar para fundos de ajuda depois que ele atinge.
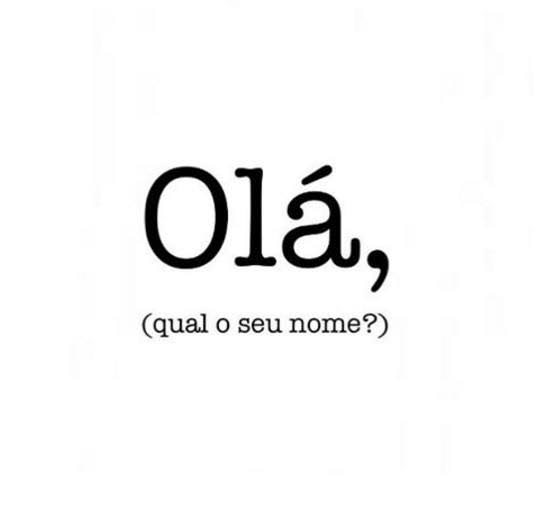
Grande parte da aparente influência dos nomes no comportamento tem sido atribuída ao que é conhecido como efeito de egotismo implícito: somos geralmente atraídos por coisas e pessoas que mais se assemelham a nós. Como valorizamos e nos identificamos com nossos próprios nomes e iniciais, a lógica diz, preferimos coisas que têm algo em comum com eles.
Essa visão, no entanto, pode não resistir a um exame mais minucioso. O psicólogo Uri Simonsohn, da Universidade da Pensilvânia, questionou muitos dos estudos que pretendem demonstrar o efeito de egotismo implícito, argumentando que as descobertas são acasos estatísticos que surgem de uma metodologia deficiente. “É como um mágico”, Simonsohn me disse. “Ele mostra um truque, e você diz, ‘Eu sei que não é real, mas como ele conseguiu?’ Está tudo na metodologia.” Um problema que ele cita em alguns desses estudos é a ignorância das taxas de base – a frequência geral com que algo, como um nome, ocorre na população em geral. Pode ser atraente pensar que alguém chamado Dan preferiria ser médico, mas temos que perguntar se há tantos médicos Dans simplesmente porque Dan é um nome comum, bem representado em muitas profissões. Se for esse o caso, o efeito de egotismo implícito não é mais válido.
Há também pesquisadores que foram mais comedidos em suas avaliações da ligação entre nome e resultado de vida. Em 1984, a psicóloga Debra Crisp e seus colegas descobriram que, embora nomes mais comuns fossem mais apreciados, eles não tinham impacto no desempenho educacional de uma pessoa. Em 2012, os psicólogos Hui Bai e Kathleen Briggs concluíram que “a inicial do nome é, na melhor das hipóteses, um estímulo inconsciente muito limitado, se houver algum”. Embora o nome de uma pessoa possa influenciar inconscientemente seu pensamento, seus efeitos na tomada de decisões são limitados. Estudos de acompanhamento também questionaram a ligação entre nomes e longevidade, escolha de carreira e sucesso, preferências geográficas e matrimoniais, e desempenho acadêmico.
No entanto, pode não ser o caso de os efeitos dos nomes não existirem; talvez eles apenas precisem ser reinterpretados. Em 2004, os economistas Marianne Bertrand e Sendhil Mullainathan criaram cinco mil currículos em resposta a anúncios de emprego publicados em classificados de jornais de Chicago e Boston. Usando certidões de nascimento de Massachusetts de 1974 a 1979, Bertrand e Mullainathan determinaram quais nomes apareciam com alta frequência em uma raça, mas com baixa frequência em outra, criando grupos do que eles chamaram de “nomes de sonoridade branca” (como Emily Walsh e Greg Baker) e “nomes de sonoridade negra” (como Lakisha Washington e Jamal Jones). Eles também criaram dois tipos de candidatos: um grupo de maior qualidade, com mais experiência e um perfil mais completo, e um grupo de menor qualidade, com algumas lacunas óbvias no emprego ou no histórico. Eles enviaram dois currículos de cada grupo de qualificação para cada empregador, um com nome de “sonoridade negra” e o outro com nome de “sonoridade branca” (um total de quatro currículos por empregador). Eles descobriram que os candidatos com “nomes de sonoridade branca” receberam cinquenta por cento mais retornos de chamada, e que a vantagem de um currículo com nome de “sonoridade branca” sobre um currículo com nome de “sonoridade negra” era aproximadamente equivalente a oito anos a mais de experiência de trabalho. Em média, um em cada dez currículos “brancos” recebeu um retorno de chamada, contra um em cada quinze currículos “negros”. Nomes, em outras palavras, enviam sinais sobre quem somos e de onde viemos.
Essas descobertas também foram demonstradas internacionalmente. Um estudo sueco comparou imigrantes que mudaram seus nomes eslavos, asiáticos ou africanos, como Kovacevic e Mohammed, para nomes de sonoridade mais sueca, ou neutros, como Lindberg e Johnson. Os economistas Mahmood Arai e Peter Skogman Thoursie, da Universidade de Estocolmo, descobriram que esse tipo de mudança de nome melhorou substancialmente os ganhos: os imigrantes com novos nomes ganhavam em média vinte e seis por cento mais do que aqueles que optaram por manter seus nomes.
Os efeitos do sinal do nome – o que os nomes dizem sobre etnia, religião, esfera social e antecedentes socioeconômicos – podem começar muito antes de alguém entrar no mercado de trabalho. Em um estudo com crianças em um distrito escolar da Flórida, realizado entre 1994 e 2001, o economista David Figlio demonstrou que o nome de uma criança influenciava como ela era tratada pelo professor, e que o tratamento diferencial, por sua vez, se traduzia em pontuações de testes. Figlio isolou os efeitos dos nomes dos alunos comparando irmãos – mesma origem, nomes diferentes. Crianças com nomes que eram ligados a baixo status socioeconômico ou a ser negro, conforme medido pela abordagem usada por Bertrand e Mullainathan, eram recebidas com menores expectativas dos professores. Sem surpresa, elas então tiveram um desempenho pior do que seus colegas com nomes não negros e de status mais alto. Figlio descobriu, por exemplo, que “estima-se que um menino chamado ‘Damarcus’ tenha 1,1 pontos percentuais nacionais a menos em matemática e leitura do que seu irmão chamado ‘Dwayne’, tudo o mais sendo igual, e ‘Damarcus’ por sua vez teria três quartos de um ranking percentual maior em testes do que seu irmão chamado Da’Quan’.” Por outro lado, crianças com nomes de sonoridade asiática (também medidos pela frequência nos registros de nascimento) eram recebidas com expectativas mais altas e eram mais frequentemente colocadas em programas para superdotados.
Os economistas Steven Levitt e Roland Fryer analisaram as tendências nos nomes dados a crianças negras nos Estados Unidos desde a década de 1970 até o início dos anos 2000. Eles descobriram que os nomes que soavam mais distintamente “negros” se tornaram, com o tempo, sinais cada vez mais confiáveis de status socioeconômico. Esse status, por sua vez, afetava o resultado de vida subsequente de uma criança, o que significava que era possível ver uma correlação entre nomes e resultados, sugerindo um efeito de nome semelhante ao observado no estudo de Harvard de 1948. Mas quando Levitt e Fryer controlaram o histórico da criança, o efeito do nome desapareceu, indicando fortemente que os resultados não eram influenciados por qualidades intrínsecas do próprio nome. Como Simonsohn observa, “Nomes nos dizem muito sobre quem você é”.
No estudo de 1948, a maioria dos nomes incomuns eram sobrenomes usados como primeiros nomes – uma prática comum entre famílias brancas de classe alta na época. Esses nomes também serviam como um sinal, mas neste caso como um de privilégio e direito – talvez seus portadores sem sucesso pensassem que poderiam se virar sem muito trabalho, ou que poderiam expor neuroses que de outra forma tentariam esconder. Vemos um nome, associamos implicitamente diferentes características a ele e usamos essa associação, por mais inconscientemente que seja, para fazer julgamentos não relacionados sobre a competência e adequação de seu portador. A pergunta relevante pode não ser “O que há em um nome?”, mas sim, “Que sinais meu nome envia?”
